
Esse artigo completa e encerra a trilogia sobre o mundo do trabalho. Outros dois artigos intitulados: “Diga-me se e onde trabalhas e direi quem tu és: o trabalho, a medida de todas as coisas” e “A conta que não fecha: as tensões entre produtividade e saúde no mundo do trabalho” encontram-se disponíveis neste jornal.
Um fenômeno que tem chamado minha atenção é a quantidade crescente de pessoas que chegam cansadas à segunda-feira. A estranheza disso se deve ao fato — histórico, cultural e até afetivo, pelo menos na memória que carrego — de que o cansaço profundo sempre pertenceu à sexta-feira. Era na sexta que o trabalhador, depois de cumprir o ritual semanal do desempenho, podia finalmente acusar o golpe: “foi pesado”, “a semana foi longa”, “estou exausto”. A exaustão tinha dia certo, quase um rito sagrado de permissão cultural.
O que vejo agora é que esse território mudou silenciosamente de posição. Sem que a maioria de nós percebesse, o dia da exaustão foi escalando de volta — da sexta para a quinta, da quinta para a quarta — até chegar aonde jamais deveria estar: logo no primeiro dia útil da semana. No check-in emocional que costumo realizar no começo das minhas aulas nas segundas à noite, essa mudança se tornou visível. Cada vez mais pessoas dizem estar exaustas já na largada, como se o fim de semana não tivesse sido de descanso, mas apenas uma pausa insuficiente entre duas levas de obrigações.
Essa antecipação da exaustão não é um detalhe. Ela é um sintoma de algo mais profundo: o desaparecimento das fronteiras entre vida e trabalho, descrito pelo filósofo coreano Byung-Chul Han como a “fusão total dos tempos”, em que o descanso deixa de cumprir sua função porque o sujeito nunca se desconecta de fato. Quando o trabalho invade todos os interstícios da vida, a segunda-feira deixa de ser começo — torna-se continuação. E o corpo, que antes podia esperar até a sexta para desabar, agora se vê obrigado a admitir já no início da semana que não suporta mais carregar sozinho a conta dessa lógica produtivista.
A trilogia que aqui se encerra nasce da necessidade de olhar com lucidez — e também com generosidade — para o sofrimento que se inscreve na experiência moderna do trabalhador. Nos textos anteriores, refletimos sobre a tensão entre produtividade e saúde, sobre a objetificação do trabalhador e sobre a sacralização do trabalho como medida do valor humano. Agora, é preciso dar um passo além: compreender como essas dinâmicas se infiltram na própria estrutura do tempo, do corpo e da psicologia do trabalho, produzindo um tipo de subjetividade exausta, culpada e permanentemente disponível.
Byung-Chul Han descreveu esse fenômeno com certa precisão, revelando como a racionalidade capitalística neoliberal transformou o trabalho em um regime de autocoerção, naturalizado e internalizado pelos próprios indivíduos. Hoje, já não precisamos de capatazes externos: somos nossos próprios vigilantes, algozes e sacerdotes — sacrificando descanso, ócio, limites e até nossas relações pessoais e afetivas em nome de um ideal de produtividade que nunca se sacia.
Se o trabalho, na sociedade do desempenho, já não mais ocupa um tempo e espaço delimitados, mas coloniza nossa subjetividade inteira – nossos desejos, relações e autoimagem –, ainda faz sentido falar em “vida fora do trabalho”, ou estamos diante de uma nova e totalizante forma de existência produtiva? Vivemos um processo de fusão entre vida e trabalho em que a distinção entre tempo laboral e tempo livre se dilui progressivamente. O resultado é um cotidiano em que sempre poderíamos estar produzindo algo, uma sensação de dívida constante, uma inquietação que não cessa. A casa vira escritório. O descanso vira preparação. O celular vira tornozeleira eletrônica emocional.
Se antes o trabalhador vendia horas, agora vende disponibilidade. Se antes era explorado, agora se autoexplora — acreditando que o excesso é virtude e que o esgotamento é sinal de comprometimento. A fronteira do dia termina, mas a fronteira do trabalho não. Isso ecoa diretamente o diagnóstico presente nos primeiros artigos: o trabalho deixa de ser uma parte da vida e passa a ser a forma de vida. Tudo o que não se ajusta à lógica da utilidade — o afeto, a pausa, a contemplação — perde valor.
Ao substituir a figura do “capataz” pela do coach, e o regulamento pela autoavaliação, a lógica capitalista contemporâneo não apenas domina o tempo de trabalho, mas também a narrativa e o sentido da vida. Que tipo de ser humano é produzido por essa lógica que transforma a existência em um portfólio? A grande mutação é a passagem de um modelo disciplinar para um modelo psicológico de dominação. Já não se controla o corpo, como nas fábricas clássicas; controla-se a mente. A ordem é sutil, mas total: seja flexível, seja criativo, seja apaixonado, seja empreendedor, esteja sempre disponível, adapte-se ou pereça.
A “flexibilidade”, tão celebrada, torna-se uma nova forma de coerção, porque o trabalhador não sabe mais onde termina a obrigação e começa a vida. Essa internalização da coerção produz culpa pelo descanso, vergonha pela fragilidade e medo de dizer não. Trata-se de uma coerção mais eficaz, porque opera no terreno da subjetividade. Enquanto se acredita livre, o indivíduo se esgota sem perceber que o chicote mudou apenas de lugar: saiu da mão do aparato empresarial burocrático e instalou-se na sua consciência.
Não é irônico e, ao mesmo tempo sintomático, que o documento que sintetiza nossa trajetória educacional, profissional, habilidades e qualificações se chamar curriculum vitae (“trajetória de vida”)? Se os rituais sociais (o jantar em família, o descanso coletivo no domingo) estruturam o tempo comunitário e dão sentido à existência, a vida em “cronogramas quebrados” e individualizados não seria, portanto, uma vida atomizada e privada de qualquer significado simbólico que transcenda a mera produtividade? Além de produzir avanço tecnológico, riqueza e desenvolvimento, o capitalismo atual promove também uma desestruturação radical do tempo. Perdemos a capacidade de viver ritmos, ciclos, pausas, rituais — elementos fundamentais para a saúde psíquica e relacional.
O dia vira uma sequência de microatividades interrompidas. O tempo se fragmenta em chamados, notificações, visualizações, ansiedades. O futuro se dissolve em urgências. Sem continuidade, sem profundidade, sem uma significativa experiência do presente, o sujeito se torna ansioso, disperso e incapaz de descansar. A própria experiência subjetiva – dos sentimentos, emoções e sensações fica fragmentada. Quando o sujeito não consegue integrar e atribuir sentido às experiências cotidianas, sua vida — constituída por essas experiências — acaba se dissolvendo no sem sentido. Nesse contexto emergem os sintomas já discutidos: burnout, ansiedade, depressão, vazio, inadequação. A mente humana não foi projetada para funcionar de modo fragmentado.
O “corpo silenciado” é a condição necessária ou a consequência fatal da “mente submetida” ao regime da hiperprodutividade. O trabalhador contemporâneo é treinado para ignorar sinais do corpo: cansaço, dor, sono, apetite, limites. Tudo o que indica vulnerabilidade é lido como falha moral ou falta de disciplina — herança direta da moral produtivista e da ética protestante calvinista reinterpretada pela lógica do mercado. Mas agora, o controle é ainda mais profundo: não basta obedecer; é preciso gostar de obedecer. Não basta entregar; é preciso amar se entregar.
O corpo pode ser ignorado, porque a produtividade se deslocou para o campo mental: criatividade, engajamento, inovação, comunicação, disposição emocional. O indivíduo entrega não apenas seu tempo, mas seu afeto, sua personalidade, sua energia psíquica. Essa colonização da subjetividade torna o sofrimento mais silencioso e, portanto, mais perigoso.
Nos artigos anteriores discutimos como o trabalhador se converteu em mercadoria, medido pela produtividade, avaliado pela utilidade, consumido e descartado. A contribuição de Byung-Chul Han aprofunda esse diagnóstico ao mostrar que, agora, o indivíduo internaliza essa lógica e passa a tratar a si mesmo como um produto que precisa ser modificado e reformulado continuamente.
Ele não é mais apenas explorado, explora-se. Não é mais apenas objeto, objetifica-se. Não é mais apenas medido, ele mesmo se mede. Vive num espelho permanente, julgando-se insuficiente, incapaz, incompetente — sempre devendo, sempre aquém, sempre precisando render mais.
Essa não é uma reflexão sobre um lugar específico, um setor da economia, sobre empresários ou trabalhadores. É sobre um sistema. Um modo de operar que atravessa a própria experiência de viver. É sobre o espírito de uma época. O que mudaria em nossas vidas se, em vez de apenas produzir mais, aprendêssemos a cuidar mais uns dos outros — e fôssemos capazes de reconstruir o trabalho como espaço de manutenção da vida e não da ante vida?
A questão central e urgente — moral e terapêutica — é que o trabalho precisa ser ressignificado. Precisamos devolver ao trabalho sua justa medida, recolocá-lo dentro e a favor da vida e não acima dela. Ele não pode ser altar sacrificial, mas uma esfera entre outras. As relações humanas precisam recuperar centralidade: afeto, confiança, vulnerabilidade, cooperação, gratuidade, generosidade — tudo o que a lógica do desempenho tenta suprimir.
Talvez o antídoto à autoexploração não seja necessariamente trabalhar menos apenas, mas dar outro sentido à vida que não seja determinado pela utilidade produtiva. Pois, se tivéssemos mais tempo de sobra, provavelmente gastaríamos de forma produtiva ou experimentando culpa pela sensação de inutilidade (produtiva).
Não se trata de negar o valor social e vital do trabalho, mas de libertá-lo do “espírito” que o sequestrou e o transformou em medida de todas as coisas. Em certo sentido, ressignificar o trabalho é ressignificar a vida. A tarefa terapêutica — e moral — do nosso tempo é devolver ao sujeito o direito de existir para além da utilidade. Porque uma sociedade que mede pessoas por produtividade, descarta pessoas por exaustão e recompensa a autodestruição não pode produzir saúde — apenas síndromes e sintomas.
Alexandre De Paula Amorim, Mestre em antropologia social, teólogo e graduando em psicologia
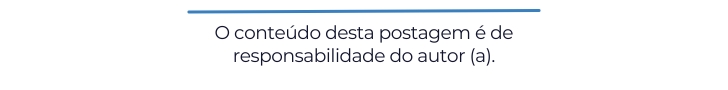






Seja o primeiro a comentar