
Qual é o real significado que o trabalho tem para nós? A tradicional expressão de que “o trabalho dignifica o homem” é frequentemente citada como um princípio universal, associado à ideia de que toda forma de labor confere valor, utilidade e respeito ao indivíduo. No entanto, essa afirmação revela-se frágil e até hipócrita quando observada sob a lógica das sociedades capitalistas contemporâneas. Nelas, a dignidade do trabalhador parece depender menos do ato de trabalhar em si e mais do valor econômico atribuído ao seu trabalho. Assim, apenas o emprego bem remunerado, produtivo e socialmente prestigiado é reconhecido como digno, enquanto ocupações mal pagas, precarizadas ou invisibilizadas são desvalorizadas, apesar de igualmente essenciais para a manutenção da vida coletiva.
O sociólogo Max Weber, em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, foi um dos primeiros a explicar como o trabalho se tornou um valor moral tão central na cultura ocidental moderna. Weber estudou especialmente os calvinistas, grupo que via o sucesso profissional como possível sinal de salvação divina. Como ninguém podia saber se estava entre os “eleitos” de Deus, o êxito material tornou-se um indício de aprovação celestial. O trabalho não era apenas uma necessidade prática, mas uma vocação sagrada — em alemão, Beruf, termo que significa ao mesmo tempo “profissão” e “chamado”. Trabalhar muito, de forma disciplinada e eficiente, significava estar mais próximo de Deus — e a ociosidade passou a ser interpretada como falha moral e espiritual.
Com o processo de secularização das sociedades modernas, a preocupação com a salvação cedeu lugar aos cuidados com a vida terrena. A moral religiosa saiu de cena, mas o ideal moral da valorização do trabalho permaneceu intacto. Ainda que a ideia de vocação tenha se enfraquecido, a ética protestante continuou ditando o imaginário social: o valor de um indivíduo mede-se por sua capacidade de trabalhar, produzir e ascender socialmente.
Essa “sacralização secular” do trabalho se tornou o alicerce sobre o qual construímos a ideia de ser humano digno e funcional. A pergunta definidora — O que você faz? — costuma ser a primeira pergunta que fazemos a um desconhecido em um contexto social. Nela está explícito que não se trata de uma relação entre pessoas, mas entre atores sociais produtivos. A resposta tem por objetivo medir se está diante de alguém que valha a pena desperdiçar o tempo. É uma forma sutil de definir o que valorizamos e quem valorizamos. A pessoa desempregada, o subempregado ou quem opta por uma vida fora do mercado de trabalho formal não é vista apenas como alguém em uma situação econômica diferente. Ela é frequentemente julgada como preguiçosa, incompetente, irresponsável ou moralmente suspeita (o que há de errado com ela?).
Em nossa cultura, elogiar alguém como “muito trabalhador” é um atestado moral. O termo carrega mais do que uma constatação de esforço; é sinônimo de caráter, honestidade e virtude. Essa fusão entre moralidade e produtividade consolidou-se como uma das bases simbólicas da identidade brasileira moderna, especialmente em regiões marcadas pela colonização europeia e pela valorização da disciplina e da eficiência.
Entretanto, essa associação entre trabalho e dignidade é atravessada por contradições. O problema não está em valorizar o esforço laboral, mas em transformá-lo no principal critério do valor humano. Essa fusão entre moralidade e produtividade faz do trabalho o centro da identidade. Atribuímos à ocupação o poder de definir quem somos e o quanto valemos. Na lógica do trabalho as pessoas se sentem tratadas como objeto, usadas, controladas e aceitas exclusivamente em função de sua utilidade prática. Talvez devêssemos nos perguntar sobre em que medida, classificar alguém como “ser trabalhador” evidencia uma indisposição ou incapacidade de perceber outras qualidade da pessoa, ou até mesmo conferir status e importância a indivíduos que não possuem nenhum outro predicado moral ou relacional, mas única e exclusivamente, o resultado material de seu trabalho – a segurança econômica.
Quando o indivíduo passa a ser definido e valorizado exclusivamente pela atividade laboral, ignora-se que os predicados mais importantes para as relações humanas — tanto no mundo do trabalho quanto no mundo da vida — são virtudes como a tolerância, a bondade, a generosidade, o afeto e confiabilidade (compromisso de não faltar com a verdade). São estes predicados relacionais que tornam possíveis a construção e a manutenção da saúde mental. Reduzir o valor de uma pessoa à sua capacidade produtiva é negar lhe a possibilidade de existir sem precisar justificar-se o tempo todo. É amputar partes essenciais da experiência humana — o afeto, o prazer, a vulnerabilidade — e transformá-la num projeto de desempenho.
Quando o trabalho se torna a “medida de todas as coisas”, outras dimensões da vida são esvaziadas ou subordinadas a ele. Isso leva ao empobrecimento da qualidade das relações significativas, da vida familiar e da afetividade. Vive-se cada vez mais para o trabalho – que se tornou a forma de vida por excelência – e todas as demais esferas são relegadas ao status de meros intervalos. A exaustão deixa de ser sinal de desequilíbrio e passa a ser medalha de mérito. A doença e a vulnerabilidade tornam-se vergonhosas: a licença médica gera culpa, a aposentadoria é vivida como crise de identidade. Se o valor pessoal está no trabalho, o que resta quando ele termina?
Se tais afirmações são pertinentes para qualquer cidade ou estado brasileiro, em Santa Catarina, estado do pleno emprego, onde a história da colonização europeia — especialmente alemã e italiana — essa cultura de valorização do trabalho adquiriu contornos ainda mais contundentes e dramáticos. O orgulho de fazer parte de uma história de sucesso, de desenvolvimento, de busca pelo aprimoramento e eficiência, do apreço pela ordem e pela prosperidade não representa fator protetivo contra os níveis de adoecimento, ao contrário, pode significar fator de agravamento que atinge a saúde mental tanto de quem trabalha quanto de quem está ocioso, por conviver com o medo e a ansiedade do fracasso e com a necessidade de provar-se incansavelmente.
Entender a dramaticidade deste cenário pode contribuir na compreensão de problemas relacionados ao mundo do trabalho, como por exemplo, os 35 mil afastamentos do trabalho por questões de saúde mental em 2024, quarto maior número entre os estados brasileiros, segundo dados do INSS. A pressão de ser medido apenas pela produtividade, competência, competitividade e sucesso profissional é um terreno fértil para a síndrome de burnout, a ansiedade generalizada e a depressão. A vida se torna uma maratona exaustiva sem linha de chegada.
O trabalho é necessário e sua importância é inquestionável. No entanto, tornou-se urgente ressignificá-lo, recolocando-o em sua justa medida. Ele pode continuar sendo parte da expressão da identidade do indivíduo, desde que não se torne seu único critério. Ele precisa voltar a ser um meio de manutenção da vida e não espaço em que o ser humano mede sua dignidade apenas pelo que produz. É preciso resgatar a vida do cativeiro da utilidade, devolvendo-lhe sua dimensão relacional, afetiva e criativa, onde o encontro e a partilha valem tanto quanto produzir. O trabalho precisa estar a serviço da vida, e não transformado em uma engrenagem que a consome lentamente — como se pudéssemos morrer de trabalhar antes mesmo da morte do corpo.
Reconhecer essa distorção cultural é o primeiro passo para ressignificar o trabalho. O desafio é devolver-lhe o sentido humano, ético e relacional que o capitalismo instrumentalizou. Quando o trabalho deixa de ser um altar — diante do qual se sacrifica o tempo, o corpo e o afeto em nome da produtividade — e volta a ser uma ponte, ligando pessoas, necessidades e outros significados, ele recupera sua verdadeira dimensão humana. É nessa passagem que o “homem trabalhador” e a “mulher trabalhadora” podem reaprender o sentido do trabalho para além do status e conquista material, reconhecendo nele não apenas o gesto que produz, mas o gesto que serve e cuida, que cria vínculos afetivos, sendo uma barreira protetiva da saúde mental.
Alexandre De Paula Amorim, Mestre em antropologia social, teólogo e graduando em psicologia
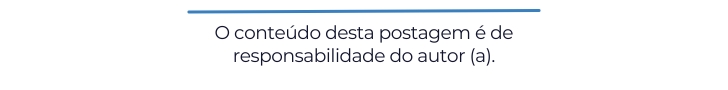





Seja o primeiro a comentar